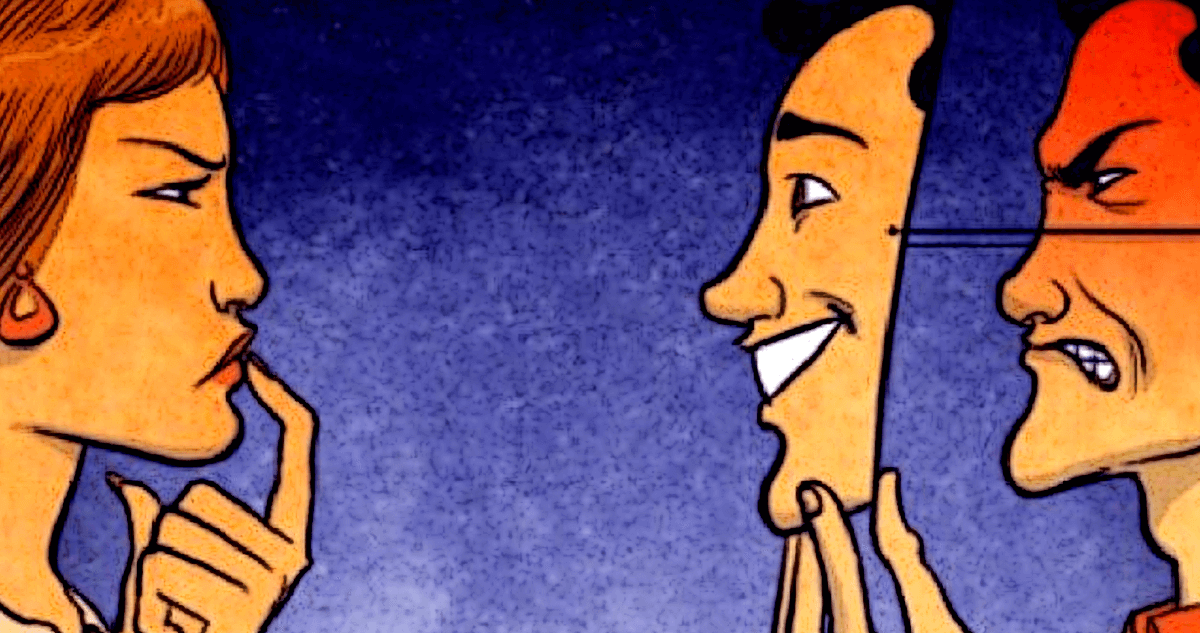Suicide rates for women and girls are on the rise
Depressão não é sentir-se triste, abalado, chateado, magoado. É um vazio inexprimível. O depressivo, em suas horas ruins, apresenta percepções distorcidas e julga que o que vê é real, enquanto está perturbado pelo medo em sua forma límbica e primitiva. Vulnerável psicologicamente, ele passa a crer em superstições negativistas e questiona seu bom senso, o que o torna presa fácil àquele medo.
Há dois aspectos da depressão: leve e severa. Na leve, tem-se aquela percepção gradual de decadência que faz parte do processo de viver; na severa, a ansiedade se apossa da pessoa, ela toma como verdade um falso conhecimento (a de total ausência de sentido da vida) e, nesse instante, sua vitalidade está esmorecida.
Enquanto houver a consciência do próprio eu mortal, a depressão estará lá, de algum modo. Essa doença tem lógica de explicação, mas o medo que se sente não, já que, sendo irracional, confunde. Entender a doença é fácil; agir conforme esse entendimento, porém, nem tanto. Durante as crises, o medo dá asas à crueldade e, como resultado, ocorre prejuízo na capacidade de autonomia racional.
A doença psicológica mais mortífera de todas é também a mais banalizada. Há quem diga que isso é besteira, uma ilusão da mente vazia e ingrata com a vida. O ser que pormenoriza a depressão ou não sabe do que está falando ou não tem preocupação em entender o assunto. O depressivo sente-se refém da própria violência e isso o castiga mais do que qualquer julgamento social.
Diferente de uma catapora que, uma vez curada, nunca mais voltará, a depressão é cíclica e não desaparece após sua primeira manifestação, razão pela qual nunca deve ser ridicularizada.
Andrew Solomon, escritor americano que convive com a depressão, afirmou em sua obra confessional O Demônio do Meio-Dia:
“O pesar é a depressão proporcional à circunstância; a depressão é um pesar desproporcional à circunstância (…) A realidade é que as pessoas não são deprimidas porque são pobres, mas, em vez disso, elas estão pobres enquanto deprimidas.”
Solomon deu início ao livro dizendo que a depressão é a “imperfeição no amor”. Uma definição falha, pois sem o reconhecimento da imperfeição não há amor verdadeiro. Amar as virtudes do amado é a coisa mais fácil. O que se prova desafiador é conviver com todas as suas falhas, neuroses, defeitos e inconveniências. Tende-se, claro, a querer um relacionamento com alguém que compartilhe dos mesmos interesses, hábitos e filosofias. Um amor à la carte.
Uma das pessoas que o autor entrevistou para o projeto de pesquisa de seu livro estava com os olhos marejados de lágrimas quando lhe disse: “A depressão é um segredo que todos nós compartilhamos”. A onipresença dessa patologia no conjunto da experiência humana é algo intrigante. Depressão é a doença do século? Não, é a doença dos séculos. Ela tem sido descrita desde a época de Hipócrates.
A impotência experimentada pelo depressivo é diferente da impotência de alguém cego, por exemplo. Este quer enxergar as cores, mas não pode; aquele pode, mas não consegue.
Ter uma família próspera e acolhedora. Um trabalho construtivo e estável. Comida na mesa, teto e uma cama para dormir. Amigos para desabafar as injustiças e narrar os sucessos. Sapatos e roupas para todas as ocasiões. Dinheiro na conta suficiente para anos e anos de viagens ao redor do planeta. Essa é a realidade de muitos depressivos. Então por que eles ainda se sentem assim de vez em quando, sendo que na faixa de Gaza há milhares se explodindo para salvar suas religiões e na África um terço da população come o equivalente a morrer de fome? Parece uma absurda ingratidão para com a própria vida. Sartre dizia que “O inferno são os outros”. Para os depressivos crônicos, o inferno são eles mesmos.
A depressão não é uma doença de burgueses que nadam em dinheiro e podem contar com planos de saúde que cobrem os hospitais mais caros, os médicos mais rodados e os exames de tecnologia mais avançada. É de todos. Também não se trata de ociosidade e falta de trabalho. A questão é que a depressão não faz julgamentos de valor sobre quem a tem, mas quem a tem sente seu valor severamente comprometido.
Depressão tem muito a ver com administração da raiva melancólica. Muitos, em resposta a uma angústia agressiva, mutilam-se para aliviar a dor. Cilada. Este comportamento não deve ser usado como justificativa para aquele sentimento: violência gera violência e no final o sujeito estará ferido e a raiz da dor intacta. A melhor forma de amenizar a angústia é penetrando nela, não com ações impulsivas, mas na base do exercício combinado entre paciência e esquecimento da ânsia de controle. Isso requer perseverança e humildade.
Uma reação comum dos deprimidos mórbidos é o silêncio porque, se eles narrassem perfeitamente todas as suas fobias para as pessoas que estão mais próximas de seu coração, elas não dormiriam em paz e ainda lhes sobraria amargura. Ficam quietos para não transmitir energias negativas a quem amam. Trata-se de um motivo compreensível, embora em certas circunstâncias seja perigoso.
A agonia de experimentar a sensação de vazio é exclusivamente humana, sintoma de um buraco que devasta de certa forma traumática a estimular o apego à transcendência, alguma estrutura imaterial de apoio. Quando essa estrutura falha, o vazio se instaura com mais facilidade. Os homens são seres inacabados, em transição, obrigados a usar sua imaginação criativa para cimentar aquele buraco em seu peito toda vez que ele alarga e ganha profundidade.
A resiliência está na aplicação da inteligência não para destruir a sensação de desespero (que levaria a seu reforço), mas para penetrar nela com coragem até que vá embora. Não é sensato tentar encontrar a saída desse labirinto psicológico com emoção, mas adaptar-se ao labirinto com a racionalização da emoção: isso exige um certo desprendimento de si, o que, nesse caso, não significa abandono de si.
Muito se sugere aos depressivos em crise que procurem uma religião, se já não forem religiosos. Mas, quando se é cético – por motivos intelectuais ou em respeito a certo estilo de vida –, a abertura à ajuda espiritual inexiste e, mesmo se porventura houver disposição, dificilmente surtirá efeito, a menos que o ceticismo seja uma moda.
Há um silêncio mortal que grita mais do que todas as reverberações de autonomia na Terra, um silêncio que se é chamado a ouvir apesar de toda resistência, um silêncio que quebra toda a lógica construída para se tentar contradizê-lo, um silêncio que conduz ao pânico e dele se alimenta. O homem se curva ao desconhecido e sua batalha individual por sentido atravessa períodos de insignificância e glória, vendo-se tentado a chegar a Deus por não ter encontrado uma alternativa de vida completamente autossustentável. Toda crítica da menoridade costuma ser, ela mesma, finita. Immanuel Kant, em seus estudos sobre autonomia e vontade, notou, com certo senso de humor:
“O maior mestre deve estar apenas em si mesmo, e ainda permanecer homem. Esta tarefa é, porém, a mais difícil de todas; na verdade, sua solução completa é impossível, pois de madeira tão torta como o homem é feito nada perfeitamente direito pode ser construído.”
A ideia de liberdade total aterroriza o ser que toma consciência do determinismo de suas escolhas e tem voz ativa para fazê-las, coisa que um mestre deve superar para inspirar confiança em seus discípulos.
O autor que melhor abordou a questão do desespero (tema de um dos seus livros) foi Søren Kierkegaard, considerado o pai do existencialismo moderno. Ele analisou que a fonte do desespero está na imaginação e que, precisamente, a liberdade para morrer é pior que a própria morte. Antes de ser uma precursora da felicidade, a liberdade absoluta de escolha provoca uma sensação de angústia e o ser livre no mundo percebe-se frágil. À primeira vista parece uma teoria sobre covardia, mas é justamente em superação a ela que se faz a força.
O existencialista é aquele que cria o que é; entretanto, o que ele é muda conforme cria e essa doutíssima responsabilidade acusa uma liberdade e, ao mesmo tempo, sua contradição. Porque as implicações de cada decisão não são ilusórias (do simples fato de se pensar nelas), o destino não pode ser previamente determinado, e isso parece bom por permitir uma vida autêntica, mas também parece ruim por impossibilitar uma segurança absoluta. Uma vez no mundo, ele sabe que deve assumir aquilo que se torna e, sendo livre, criador de si mesmo, pensa profundamente e não quer ser tão livre assim, pois a solidão de ser é muito mais pesada que a de estar. Na intersubjetividade acorda sua identidade, mas, como não nasceu pronto e nem morrerá assim, apenas percebendo a existência de outros ele se sente salvo, dado que sua solidão seria insuportável em uma realidade só.
Kierkegaard, cristão genuíno, pensava que a responsabilidade de construir a própria história não se suporta harmonicamente sem o incentivo de um poder superior. Ele separou a necessidade de se acreditar em Deus da desnecessidade de provar a sua existência. Nisso foi semelhante a Kant, que, mesmo agnóstico, teve que suprimir o conhecimento para dar espaço à crença.
Não há um ser humano apto a liberar toda a angústia da liberdade de dentro de si, e também nenhum que não encontre, num súbito reconhecimento, uma força interna capaz de moldá-la a seu favor, independente da fortuna dos acontecimentos.
O anseio pela resolução de sentimentos ininteligíveis tem na religião uma companheira constante. Aquela gana pelo desprendimento da realidade se apossa de uma pessoa que, com os pés na Terra, treme.
Quando a crise melancólica passa, em muitos surge uma ligeira voz interior dizendo “Graças a Deus” ou “Obrigado, Senhor”, fenômeno intuitivo que abarca também ateus militantes (dependentes da ambição religiosa, por mais que o neguem).
Se o depressivo pudesse dizimar seu holocausto mental de uma vez por todas, o faria instantaneamente e como seu primeiro e último pedido, mas a medicina ainda não encontrou um remédio que cure angústia, a mais devastadora das sensações humanas. Nesse aspecto a ciência leva desvantagem sobre a religião, esta que, possuindo demanda em todas as épocas, é a única indústria impossível de falir.
Em seu livro Religião e o Declínio da Magia, o historiador Keith Thomas defendeu que, enquanto a religião preencher o espaço das respostas que a ciência não consegue fornecer, seu papel será eterno. Esse papel, contudo, não corresponde à razão da coisa. A religião não resulta como complemento da insuficiência de conhecimento científico: essa insuficiência já é óbvia pelo simples fato de existir religião.
Ouve-se muito dos motivadores de plantão: “Seu futuro depende de você”. Há uma desejosa liberdade em tomar as próprias decisões, mas, com ela, uma profunda insegurança a ser domesticada e isso também é trabalho de uma vida inteira. As religiões encontram no âmago desse medo uma causa sui generis a cuidar, ofertando o apoio para aquilo que não se explica, mas se sente e precisa ser explicado.
Longe de significar um medo da maturidade, a depressão torna os seres imaturos à margem de um esforço lógico pela superação da insegurança, mas apenas enquanto ativa. Quando esse eclipse da alma finda, dá-se uma maior importância às coisas mais simples da vida, e é então que a gratidão se manifesta sem qualquer artificialidade. Isso lembra uma das frases icônicas do filme Gênio Indomável, de que as crises acordam para as coisas boas que não são percebidas.
Não é preciso seguir uma religião para ter fé, mas é necessário ter fé para seguir a vida. Para os que não têm fé alguma, a vida logo desaparece, de dentro para fora. As pessoas são capazes de acreditar em qualquer coisa quando o desconhecido invade suas vidas para lhes mostrar até onde a lucidez tem ousadia de perscrutar.
As crises existenciais variam de conteúdo e intensidade, metamorfoseiam-se, e a máxima competência de suportá-las reside no fato de que todas as formas que o mal assume são híbridas. Em seu best-seller de terror A Coisa, Stephen King explora o argumento de que um monstro, para ser inteligente e efetivo, deve mudar de estética, hábitos e personalidade conforme as especificidades terrorísticas do pensamento de cada uma de suas vítimas. Todos têm medos únicos, terrivelmente únicos, isto é, demônios que os perturbam e a mais ninguém. Agora, todos esses medos particulares, juntos, dão em um resultado comum: o medo de morrer. É com esse medo que se joga a isca e com a religião se puxa a vara de pescar.
Pode soar ruim, mas sem a morte não há como forjar o significado da vida. As pessoas deixariam de dar conta de suas demandas caso fossem imortais, afinal, nenhuma recompensa valeria o risco e os princípios morais se dissipariam no ar junto com as relações humanas.
Alguns depressivos em enfermidade latente dizem se sentir “possuídos”. Chegam a cogitar uma espécie de maldição, como se estivessem pagando por um castigo do qual nem sabem o motivo. Criam ciclos de autoperpetuação de culpa, e isso concatena visões hostis irreais – contudo, eles não estão acreditando nisso. Essa cegueira moral prepondera sintomas catárticos na saúde mental.
Quando se diz que alguém está iludido, isso parte da noção primal de que se é apto para diferenciar realidade de ilusão. Ora, visto que a realidade não é a mesma para todos, e que uma pessoa iludida pode muito bem dizer à outra que o que enxerga é real, todos, de alguma forma, são iludidos. Um lunático enfrentando um mundo de aparências por muito tempo passará a acreditar que o faz-de-conta é real, até não perceber mais a distinção. O depressivo, embora se sinta lunático, pode enxergar muito bem e aprender coisas extraordinárias se se adapta ao preço da compreensão da angústia. Quem superestima o poder da capacidade criativa do gênio humano tem muito a sofrer. Excesso de consciência. Na Grécia, os que mais se esforçavam para adquirir sabedoria atraíam a raiva dos deuses, que os repreendiam com lições morais irresolutas à combinação da inteligência de todos os homens. “Use o deus dentro de ti, mas não ouse ser deus”.
Cada vez mais se toma antidepressivos. Sobre esses remédios, há muitas reclamações, dentre as principais perda de desejo sexual, sonolência, distúrbios de alimentação (que levam a aumento ou perda de peso), falta de concentração e retardo do raciocínio. Alguns se tornam viciados neles e outros os dispensam por motivos quase sempre sociais. Não existe remédio psiquiátrico inofensivo.
Balancear o descompasso químico com fármacos ajuda apenas parcialmente na recuperação; fatores empíricos são tão ou mais importantes e precisam ser revistos, como os padrões de pensamento que levam à crise, hábitos e qualidade dos relacionamentos atuais.
Mesmo quando se tem certeza de saber exatamente do que se trata, a revisão de conceitos sempre se mostra válida, pois em relação a uma doença traiçoeira como essa nada é tão familiar como parece.
No dia a dia é comum as pessoas experimentarem oscilações de humor dentro de um certo continuum. A ultrapassagem desse terreno estabelece uma condição de emergência anormal, contra a qual se luta instintivamente. Isso gera enorme ansiedade; a pessoa sente como se uma tempestade de chuva ácida caísse apenas sobre si, enferrujando todo seu sistema. Mas ela é de carne e osso.
O deprimido age igual Quasímodo, que evita a sociedade não porque a teme, mas estranha a si mesmo e não quer fazer mal a ninguém. A cara deformada (feiura) e a corcunda proeminente (insegurança) assustam a todos que enxergam nele não uma pessoa, mas uma aberração; não um inteiro, mas um “quase”. Isolado na catedral de Notre Dame, passa o dia inteiro imerso em conflitos internos, e o curioso é que seus melhores amigos são gárgulas falantes: somente pedras se preocupam em ouvi-lo. No filme da Disney, adaptado do livro Notre Dame de Paris, de Victor Hugo, Quasímodo é criado por um arquidiácono que assassinou sua mãe quando ele ainda era um bebê em desmame. Esse arquidiácono é Frolo, o vilão mais complexo já criado pela Disney e que, no decorrer da história, precisa lidar com o remorso pelo crime cometido e ainda se responsabilizar pela educação daquele que se tornou órfão por sua causa. O filme ensina que a matéria-prima de um monstro é o autoengano. Ao plantar na mente de Quasímodo a crença de que este é um monstro, Frolo, um ser blasfemo e covarde por trás da máscara da fé, queria se esconder da própria monstruosidade viva em sua consciência. A mentira usada para enganar a si mesmo causa mais danos morais do que qualquer distúrbio de personalidade.
J.K. Rowling, autora de Harry Potter, sofre de depressão. No terceiro livro da série, O Prisioneiro de Azkabam, ela metaforiza a doença com personagens chamados “dementadores”. O que fazem estas criaturas? Sugam todas as memórias felizes de suas vítimas e reavivam nelas seus piores traumas, deixando-as gélidas, paralisadas e absolutamente aterrorizadas. Quando os dementadores se aproximam de Harry, ele se sente torturado, desesperançado e toda sua magia se esvai como se nunca tivesse existido. Não à toa são os dementadores (espectros da depressão) que atuam como vigias da prisão de Azkabam, onde ficam enclausurados os prisioneiros vencidos pela insanidade. O professor Snape – talvez o personagem mais bem elaborado por Rowling – esconde sua depressão por trás da máscara de ferro que usa ao relacionar-se com os outros. Após as atividades diárias, isola-se em sua masmorra no canto mais inferior do castelo de Hogwarts, a fim de discutir consigo mesmo sobre como aliviar seu passado tão cruel como a imagem que vende. Foi obrigado a aceitar o fato de que o amor de sua vida, Lílian, casou-se com seu pior inimigo, Tiago; e ainda se mói de culpa pela morte dos pais de Harry, tendo acusado a Voldemort a profecia de que este seria derrotado por uma criança. Na tentativa de canalizar ódio e raiva reprimidos, muitos depressivos agem como Snape, solitários em sua capa de aço.
A solitude dos que a bem empreendem se mostra valiosa em termos de autoconhecimento. Mas existe uma solidão patológica: a que coloniza o sujeito em sua própria terra. O solitário feliz cria em sua solidão; o solitário triste é produzido por ela. Para alguns depressivos, experimentar a solidão é como ser arremessado numa selva desconhecida em plena madrugada. Tudo no escuro parece mais assustador do que na claridade do dia.
A solidão também é metaforizada pela imagem do deserto. Só quem experimentou o deserto é capaz de compreender a pequenez do ser em contraste com a imensidão do universo. Um mergulhar direto no isolamento, onde não se é ouvido por ninguém e os corpos celestes apenas prosseguem seu rumo indiferente àqueles que os vislumbram. Fábulas bíblicas relatam que grandes transformações exigem o desprendimento da sociedade. O deserto não é apenas um local de privação, mas também de amadurecimento. Muitos que vão para o deserto nunca mais voltam, é verdade. Se a empreitada fosse fácil, não haveria pelo que se vangloriar.
Exagerado estigma ronda a depressão, e isso é herança de tempos longínquos. No período da Inquisição, acreditava-se que as doenças mentais eram doenças da alma. Os deprimidos crônicos, desesperados por questões além de sua compreensão, duvidavam da ideia de salvação eterna e quem estava de fora julgava que esse temor era consequência direta do ceticismo. Ainda hoje esse tipo de associação é bem comum, dentro e fora dos círculos religiosos.
Não se pode brincar com o sofrimento das pessoas, ainda mais em estado depressivo. Outra coisa desumana é abandoná-las ou evitar contato porque a sua companhia desagrada. Os melhores amigos são reconhecidos no coração negro da angústia, pois este exige a prática de uma boa vontade sólida e irreprimida, enquanto uma amizade supérflua depende tão só do prazer e seu futuro está arruinado desde que esse requisito seja aceito como verdadeiro.
No filme Patch Adams: O Amor é Contagioso, Robin Williams interpreta um homem depressivo e com tendências suicidas. Após uma tentativa de suicídio, ele voluntariamente se interna num hospital psiquiátrico e lá recobre o ânimo estimulando o senso lúdico dos pacientes. De volta à sociedade, estuda medicina para se tornar médico e realizar um sonho: ajudar os outros. Enquanto aplica o método terapêutico do bom humor para restabelecer a esperança dos enfermos, ele mesmo se renova a cada dia. Ao adentrar no vasto universo da medicina, ele descobre que falta um ingrediente ao sistema: humanidade. De nada adiantam as máquinas ultramodernas de investigação de patologias e os incríveis recursos tecnológicos de suporte aos processos medicinais se os próprios médicos não têm vontade de exercer a empatia. Patch descobre três coisas: 1) Todo médico é também um paciente; 2) A morte não é a verdadeira inimiga, mas indiferença; 3) Fazer os outros sorrirem surte um efeito terapêutico mais efetivo do que qualquer benção ou milagre.
O sofrimento ensina mais que o amor, pois quem ama certamente sofre e quem não ama também. Se for para sofrer, que seja pela coisa certa. Pergunta-se muito se a escravidão inerente à sobrevivência faz dos seres de sofrer azarados demais. O sofrimento em si não é algo bonito, mas são lindas muitas causam que o justificam.
A depressão torna difícil a troca afetiva, não por carência de afeto social, mas por interrupção casual da afetividade. Em Edward Mãos de Tesoura, há uma cena em que Peg pede para Edward abraçá-la e ele responde: “Não posso”. Ele se encaminha para a janela, olha tristonho para a lua e a moça se aproxima e lhe dá um abraço.
As pessoas têm sido martirizadas por suas angústias. Onde está a empatia? O ser empático não é capaz de captar com plena exatidão a dor do outro, seja quem for e qual for, mas é capaz de usar sua própria dor para ser empático e, quem sabe, amoroso. Se a dor é um ingrediente do amor e só se tem real empatia amando, um ser ausente de dor não conseguiria ser empático. É incrível como uma pessoa depressiva (ou que convive com uma) se torna hábil para saber quando alguém está em recaída ou prestes a entrar em recaída.
Não é agradável falar sobre depressão, tampouco senti-la. Pior ainda é ver gente perdendo a vida por causa de desinformação e apequenamento do problema.
Os depressivos precisam de pessoas que as acalmem e estejam lá para ouvi-las, não julgá-las. Exclamações moralistas como “Pare de se comportar como um pobre coitado!” ou “Acorde para a vida!” ou “Levante essa cabeça!” são de pouquíssima ajuda e apenas demostram uma indignação que os depressivos não precisam, pois já estão preocupados demais. Passada a crise, eles agradecerão àqueles que os ouviram com paciência e compreensibilidade e não dos que se mostraram implacáveis na emissão de seus juízos finais.
Recent Posts
Esse filme surpreendente da Netflix é a pedida perfeita para o seu domingo preguiçoso
🍿 Um domingo preguiçoso pede leveza: Essa comédia romântica da Netflix entrega risadas, belas paisagens…
A comédia da Netflix que vai salvar sua noite de domingo
😂 Uma mentira improvável, uma barriga falsa e muito caos romântico: essa nova comédia da…
“Prova final?” NASA anuncia descoberta em rochas de Marte que reacende o debate sobre vida alienígena
Descoberta bombástica: Nasa encontra minerais em Marte que podem confirmar vida extraterrestre antiga.
Mulher entra em trabalho de parto durante podcast e deixa apresentadoras em choque; desfecho é de fazer chorar!
👶🎙️ Imagina assistir a um podcast e presenciar alguém entrando em trabalho de parto AO…
Cientistas do Brasil criam remédio à base de proteína da placenta que devolve movimentos a pessoas tetraplégicas
👉 Cientistas brasileiros deram um passo histórico: criaram um medicamento feito com proteína da placenta…
Ela morreu por 24 minutos e sobreviveu: o que contou vai deixar qualquer um arrepiado
👉 Ela ficou 24 minutos sem vida e voltou para contar o que sentiu. O…