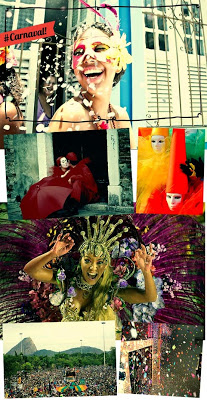Por Claudia Antunes
Carnaval não tem meio termo. É ame-o ou deixe-o. É fuga para a pequena cidade do interior ou entrega de corpo e alma, no meio de blocos ou atrás de trios elétricos. Falando nestes, eu já morri, pela visão musical de Caetano Veloso. Nada me soa com tamanho desconforto do que me imaginar suada, pisada, inteiramente rouca e, ainda assim, me sentir feliz. Hoje, acho surreal – embora tenha sido a melhor fase eufórica de minha vida – passar um mês pensando na fantasia que eu iria usar.
Meus carnavais, com exceção de 1966 e 1967, foram todos em Rio das Flores, ainda garota e pré-adolescente. Aos 16 anos, optei por brincar o carnaval em Valença, cidade vizinha ao meu paraíso campestre. As primas estavam a mil, algumas hospedadas em minha casa, outras em suas próprias e todas com o pensamento no Clube dos Coroados. A saudosa costureira rioflorense Ana comprometeu-se a fazer nossos pareôs. Fomos a Valença comprar o tecido, com a intenção de igualar as fantasias, com leves variações. Era uma graça: fundo branco com hibiscos vermelhos, remetendo às dançarinas havaianas. Flores nos cabelos longos, nos pulsos, nos tornozelos. E lá fomos nós!
O Coroados tinha uma entrada bucólica, com bancos entre belos jardins iluminados, antecipando o salão. Sabe como é a adolescente carioca quando está fora de seus domínios… Se superestima mais ainda! Entramos no salão e nossos olhos piscavam muito pela aderência duvidosa de cílios postiços. Mas parecia charme. A orquestra começou a tocar e eu não vi mais nada! Entrei no meio do furacão e rodava pelo salão, seguindo o rumo dos foliões. Porque tem isso, não se pula carnaval na contramão da multidão.
A marchinha que bombou naquele ano foi ‘Máscara Negra’, do fabuloso e inesgotável compositor Zé Keti (‘Tanto riso, oh, quanta alegria/ Mais de mil palhaços no salão/ Arlequim está chorando pelo amor de colombina/ No meio da multidão’). Amizades iniciadas por um sorriso aqui, uma piscadela acolá.
Lá pelas tantas – perde-se a noção de tempo e espaço – um garotão começou a me seguir. Ou melhor, onde eu estava dançando, ele aparecia. Se eu fosse para o bar pegar um drink, ele também ia. Ficou tão próximo a mim, que aceitei rodar o salão abraçada a ele (era assim, naquele ano que Zuenir Ventura disse que não acabou). E nos três dias de baile, ficamos juntos. A menina de pareô e o acompanhante de sarongue, a versão masculina da fantasia, que enaltecia pernas e dorsos naturalmente bonitos, esculpidos por futebol (as academias de ginástica eram um traço no Ibope). Tudo devia acabar por ali. Só que eu não sabia que o cara tinha dois irmãos que poderiam ajudar no conchavo. Um era namorado de minha prima e o outro seria, em pouco tempo, o primeiro marido da atriz Maria Zilda. Munido de bons contatos, ele me achou aqui no Rio, onde também morava. Fiquei um mês fugindo do Rogério – era esse o seu nome -, que dava várias incertas no meu prédio. Mas aos 16, nossos hormônios nos conduzem. E acabei totalmente vencida no dia em que ele apareceu usando uma camisa polo azul-marinho com calça branca de veludo cotelê, que promoveram a elevação do estrogênio e progesterona de minhas glândulas!
Os três dias de folia e brincadeira estenderam-se por quase três anos, com juras de amor eterno, que não se cumpriram. Não vale a pena economizar energia nesse precioso período de nossas vidas.
Ah, juventude, seu tempo não tem tempo. Ele corre…
Claudia Antunes é carioca, jornalista e já trabalhou em jornais como Jornal da Tarde (SP), O Estado de S. Paulo, Jornal do Commercio e Tribuna da Imprensa e nas Revistas Manchete, Fatos & Fotos e Visão (atual Isto É). Jardim Botânico do Rio de Janeiro e INEA.